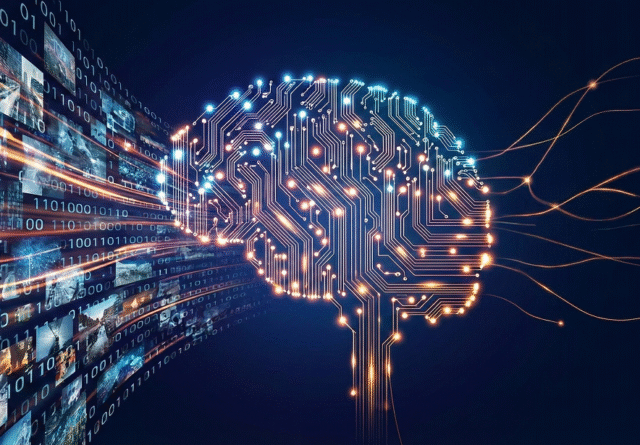Sobre a UFMG
Ensino
+53.000Estudantes em todos os níveis de ensino
Pesquisa e Inovação
+8.500Projetos de pesquisa em andamento
Extensão
+3.200.000Pessoas beneficiadas pelas ações
Calendário Escolar
-
Início do período de protocolo de pedidos de ajustes e reformas curriculares, efetuados pelos Colegiados de Cursos de Graduação, na Pró-Reitoria de Graduação.
-
Feriado: Carnaval.
-
Feriado: Cinzas.
-
Data-limite para divulgação pelo DRCA do resultado dos processos de transferência para ingresso na UFMG no 1º período letivo de 2026, no âmbito do PEC-G.
-
Período para requerimento de matrícula (3ª fase) para o 1º período letivo de 2026 em atividades de formação livre (núcleo geral) e formação transversal (núcleo complementar), pelos estudantes veteranos de Graduação, no SiGA.
-
Período para requerimento de matrícula (3ª fase) para o 1º período letivo de 2026 em atividades de formação livre (núcleo geral) e formação transversal (núcleo complementar), pelos estudantes veteranos de Graduação, no SiGA.
Eventos
O ‘segredo bem guardado’ de Isabel Moreira em exposição no Centro Cultural
13 de fevereiro a 23 de março
•19h
-
Cursos
Departamento de Engenharia Elétrica recebe inscrições para especialização em fontes renováveis de energia

-
Cursos
Fale tem inscrições abertas para curso sobre leitura e recepção teatral

-
Evento Cultural
Exposição no Espaço do Conhecimento reúne histórias das relações migratórias entre Brasil e China

Últimas notícias
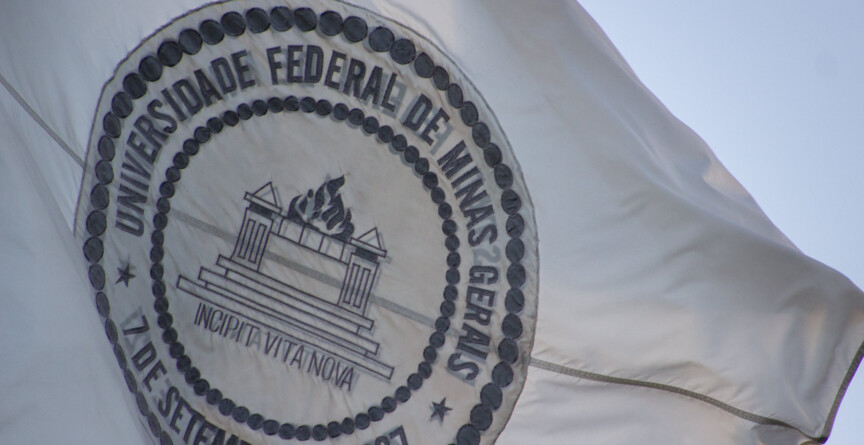
UFMG se posiciona sobre episódio de discriminação contra pessoa com deficiência
Denúncia será apurada; reitora Sandra Goulart Almeida e o vice-reitor Alessandro Fernandes Moreira reafirmam compromisso da Instituição com a diversidade, a inclusão e o respeito às diferenças

Sob pressão climática, Amazônia muda estratégia para sobreviver à seca
Adaptação é sinal de resiliência do bioma, mas especialistas da UFMG alertam para a queda na produtividade, menor absorção de carbono e risco elevado de incêndios

Entre telas, presença e imaginação
Novo programa da TV UFMG mergulha nos meandros da mostra de Tiradentes para refletir sobre o cinema brasileiro contemporâneo