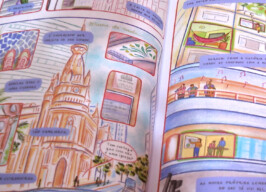Sobre a UFMG
Ensino
+53.000Estudantes em todos os níveis de ensino
Pesquisa e Inovação
+8.500Projetos de pesquisa em andamento
Extensão
+3.200.000Pessoas beneficiadas pelas ações
Calendário Escolar
-
Aniversário de fundação da Faculdade de Odontologia (1907).
-
Requerimento de transferência para a UFMG para ingresso no 1º período letivo de 2026, por alunos do PEC-G, junto ao DRCA.
-
Requerimento de transferência para a UFMG para ingresso no 1º período letivo de 2026, por alunos do PEC-G, junto ao DRCA.
-
Requerimento de transferência para a UFMG para ingresso no 1º período letivo de 2026, por alunos do PEC-G, junto ao DRCA.
-
Resultado da 1ª fase da matrícula dos estudantes veteranos de Graduação para o 1º período letivo de 2026.
-
Período para requerimento de inclusão de novas atividades na matrícula (2ª fase) do 1º período letivo de 2026, pelos estudantes veteranos de Graduação, no Sistema Acadêmico de Graduação (SiGA) e no SiGA Mobile.
Eventos
‘O que terá acontecido com Dolly Piercing?’ tem novas apresentações em BH
03 a 05 de fevereiro
•19h30
Últimas notícias
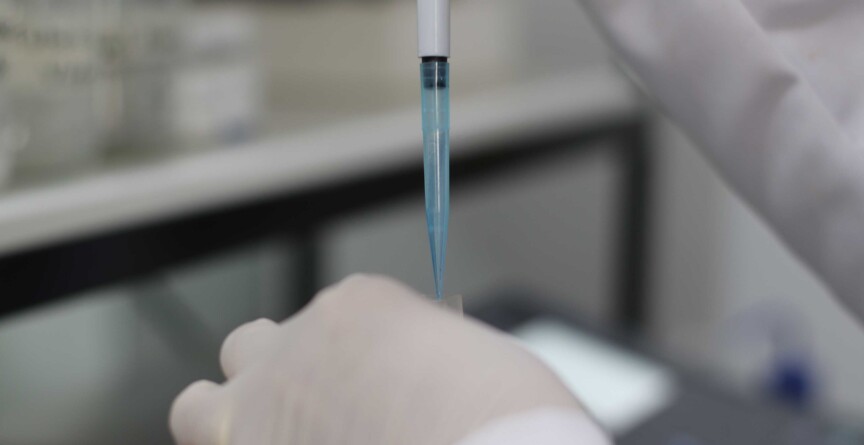
Fapemig lança chamada de R$ 105 milhões para promover pesquisas em diversas áreas do conhecimento
Propostas podem ser submetidas até 20 de março; são aceitas candidaturas em diversas áreas do conhecimento

Resultado da chamada regular do Sisu UFMG já está disponível
Departamento de Registro e Controle Acadêmico (DRCA) da Universidade disponibiliza canais para esclarecimento de dúvidas
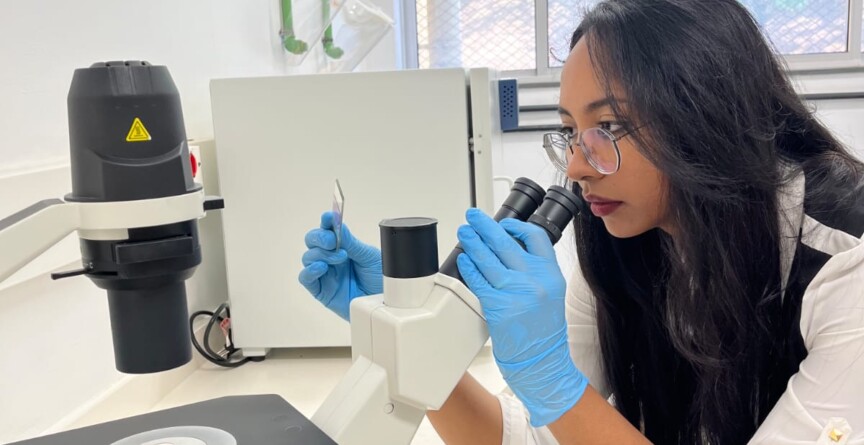
Pesquisa que propõe alternativa a testes com animais ganha reconhecimento internacional
Em desenvolvimento no ToxLab, da Faculdade de Farmácia, novo método permite avaliar potencial cancerígeno de fármacos e danos ao DNA sem utilizar seres vivos
Eu faço Gestão de Serviços de Saúde! Conheça o curso que lida com Saúde, Demografia, Economia, Contabilidade e Administração
Exposição “UFMG centenária: memoráveis” apresenta personalidades que marcaram a história da Universidade
Animais não entram em conflito à toa, eles avaliam riscos e benefícios antes de tomar uma decisão.
A UFMG disponibiliza transporte interno gratuito, já ouviu falar?
Rádio UFMG Educativa
Quebrando tudo
Próximos Programas
-
Ações truculentas do ICE são mais um reflexo da erosão democrática nos EUA, reflete a presidenta da Comissão de Relações Internacionais da OAB/MG, Amina Guerra
Ouvir • -
Usina Hidrelétrica de Cana Brava, em Goiás, é cenário do romance ‘Terras Submersas’
Ouvir • -
Bom dia UFMG – edição do dia 03/02/26
Ouvir •