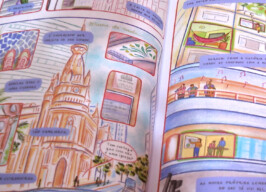Sobre a UFMG
Ensino
+53.000Estudantes em todos os níveis de ensino
Pesquisa e Inovação
+8.500Projetos de pesquisa em andamento
Extensão
+3.200.000Pessoas beneficiadas pelas ações
Calendário Escolar
-
Requerimento de transferência para a UFMG para ingresso no 1º período letivo de 2026, por alunos do PEC-G, junto ao DRCA.
-
Requerimento de transferência para a UFMG para ingresso no 1º período letivo de 2026, por alunos do PEC-G, junto ao DRCA.
-
Requerimento de transferência para a UFMG para ingresso no 1º período letivo de 2026, por alunos do PEC-G, junto ao DRCA.
-
Resultado da 1ª fase da matrícula dos estudantes veteranos de Graduação para o 1º período letivo de 2026.
-
Período para requerimento de inclusão de novas atividades na matrícula (2ª fase) do 1º período letivo de 2026, pelos estudantes veteranos de Graduação, no Sistema Acadêmico de Graduação (SiGA) e no SiGA Mobile.
-
Período para requerimento de inclusão de novas atividades na matrícula (2ª fase) do 1º período letivo de 2026, pelos estudantes veteranos de Graduação, no Sistema Acadêmico de Graduação (SiGA) e no SiGA Mobile.
Eventos
‘Travessia’, curso gratuito de dança, recebe inscrições
02 a 26 de fevereiro
Últimas notícias

Algoritmos contra doenças
Ferramenta de bioinformática patenteada pela UFMG pode ajudar no desenvolvimento de medicamentos
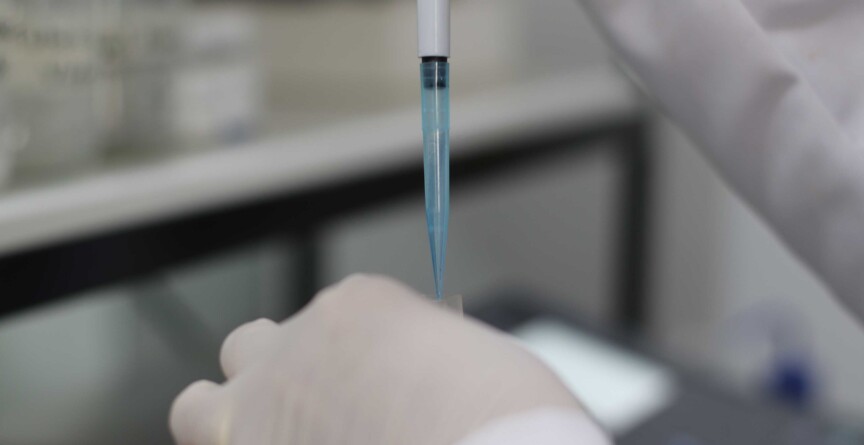
Fapemig lança chamada de R$ 105 milhões para promover pesquisas em diversas áreas do conhecimento
Propostas podem ser submetidas até 20 de março; são aceitas candidaturas em diversas áreas do conhecimento

Resultado da chamada regular do Sisu UFMG já está disponível
Departamento de Registro e Controle Acadêmico (DRCA) da Universidade disponibiliza canais para esclarecimento de dúvidas